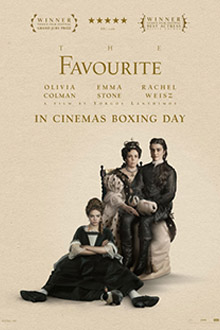Falar de Martin Scorsese é falar, possivelmente, do maior diretor da história dos Estados Unidos. Não só pela imensa lista de filmes memoráveis, mas também pela longevidade de sua carreira. É impressionante a forma com que o diretor consegue adaptar a sua linguagem ao tempo em que está inserido, sem perder a sua mão. Se nos anos 1970/1980 o diretor apostava em uma abordagem mais crua e visceral acerca da criminalidade, como vimos em "Taxi Driver", por exemplo, recentemente temos visto propostas bem diferentes do padrão. Basta pegarmos os 5 filmes feitos por Scorsese na década: "Ilha do Medo", "A Invenção de Hugo Cabret", "O Lobo de Wall Street", "Silêncio" e "O Irlandês". Um thriller psicológico, uma aventura infantil, uma comédia totalmente sem escrúpulos, um drama histórico introspectivo e um filme de máfia. Parece que, com a idade, Scorsese tem experimentados os diferentes gêneros cinematográficos e obtendo bastante êxito com isso. Hoje em dia não podemos falar que Scorsese é um excelente diretor de filmes de máfia. Ele tem se mostrado muito além disso. Contudo, quando o diretor em parceria com a Netflix, monta um elenco com Robert De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel e Al Pacino é impossível não termos expectativas altas no que tange o tema máfia. Voltando ao gênero que o consagrou com filmes como "Os Bons Companheiros" e "Os Infiltrados", "O Irlandês" é um retrato da vida de Frank Sheeran (Robert De Niro) e todas as tramas envolvendo política, confiança, traições e violência no submundo da máfia. O filme é narrado em primeira pessoa por Sheeran e adota uma estrutura de flash-backs, onde são contados diversos momentos-chave da presença do personagem entre os mafiosos italianos. É interessante notar como os arcos da narrativa são muito bem definidos e esquematizados. Tendo em vista a duração demasiada longa (são 3 horas e meia de filme), é importante contar com uma montagem ágil e clara, que defina com precisão os diferentes arcos da narrativa. E tudo isso é feito com maestria, de modo que o peso das horas não recaia em momento algum sobre o espectador.
O roteiro de Steven Zaillian ("Gangues de Nova York", "A Lista de Schindler") é muito hábil em desenvolver, de maneira íntima e introspectiva, o seu protagonista. Através, inicialmente, de uma narração feita em primeira pessoa por um senhor já no fim da vida, o público se vê compadecido com a situação de Frank. É como se estivéssemos sentados na frente de um avô que venha contar uma história de sua juventude. Isso faz com que, desde o princípio, estejamos impelidos a nos envolver emocionalmente com a narrativa, tornando o nosso juízo de valor um pouco mais flexibilizado. Não é que as atitudes de Frank sejam menos condenáveis, porém a forma como fomos apresentados ao personagem nos faz ter um mínimo de empatia com ele. Além disso, um dos grandes pontos altos do filme é a criação de diálogos rápidos e inteligentes entre os personagens. Como "O Irlandês" se preza por retratar os bastidores do poder, conseguimos perceber as minúcias e os detalhes inseridos, paulatinamente, nos diálogos. Repare como ouvimos em um primeiro momento: "Quando os mafiosos dizem que estão um pouco preocupados, isso significa que eles estão muito preocupados". Posteriormente, no ato final da metragem, esse diálogo é relembrado de maneira sutil. Porém, o espectador envolvido com a história já entende o seu significado, justamente por tal rima narrativa. Essas pequenas inserções e detalhes acrescidos dentro do longa engrandecem a experiência à medida que dão, para o espectador atento, pequenas recompensas até o final da jornada. Outro ponto alto é a interessante discussão histórica e política que o filme traz à tona. Ora, poder e política sempre andaram juntos e seria lógico pensar que a máfia teve muito papel em diversos momentos da história política estadunidense. Nesse ínterim, o longa não mede esforços para abordar esse verdadeiro jogo de xadrez, de maneira extremamente didática e que se apresenta como um fiel retrato histórico. Por outro lado, fica evidente que essa habilidade do roteiro em criar situações pertinentes e diálogos marcantes advém do excelente elenco que Scorsese tem nas mãos. Talvez seja até redundante falar isso, mas seria praticamente impossível a reunião de De Niro, Pacino e Pesci não se configurar como o melhor elenco do ano.
Robert De Niro é o grande centro do filme, conseguindo prover uma atuação bastante contida, que realça o grande peso que o personagem carrega internamente. É como se ele sempre estivesse rodeado pelo caos e tendo que manter a calma. Por isso, demonstra-se um homem frio, metódico, mas que, através dos olhares dóceis para a família e das hesitações em momentos importantes da trama, acabam por conquistar. Al Pacino, por sua vez, cria um Jimmy Hoffa passional e envolvente, em uma clara homenagem de Scorsese à figura. Através de discursos apaixonados e de uma posição extremamente convicta, Al Pacino demonstra-se versátil ao exibir um homem que acredita nos seus ideais e não teme o que isso pode acarretar na sua vida. Por fim, fechando o trio protagonista, temos um Joe Pesci bem mais moderado do que aquele de "Os Bons Companheiros", mas que demonstra um ar de liderança e superioridade através dos seus movimentos sóbrios e pensados. É como se o seu personagem Russel Bufalino sempre tivesse tudo nas mãos, remetendo, de certo modo, ao grande Vito Corleone, de "O Poderoso Chefão". Além deles, o filme conta com participações pontuais de Harvey Keitel e Bobby Cannavale que desempenham bem seus papéis coadjuvantes. Contudo, o que faz realmente "O Irlandês" funcionar é o grande arquiteto por trás disso tudo, capaz de conectar os diferentes elementos cinematográficos em uma obra tecnicamente perfeita. Scorsese, aqui, demonstra, mais uma vez, uma incrível sobriedade com a câmera na mão. Através de planos-sequência e planos longos, o diretor é capaz de criar ambientações incríveis. Todas as escolhas de câmera de Scorsese fazem sentido, o que potencializa ainda mais a narrativa do filme. Explico: não é suficiente que o roteiro estabeleça um diálogo tenso. Também é importante que o diretor saiba focar nas expressões faciais de maneira certa, transitar entre os personagens no tempo correto, além de exibir os detalhes para o espectador no momento devido. A junção dessas coisas é capaz de prover uma experiência muito mais satisfatória. Além disso, Scorsese acerta na escolha das músicas que permeiam a metragem. Sempre estão presentes músicas que remetem ao tempo da narrativa, dando ao longa uma espécie de nostalgia e glamour muito bem vindos. Aqui, diferentemente de seus demais trabalhos relacionados ao tema de criminalidade, Scorsese não aposta numa abordagem da violência crua. A escolha é por um desenvolvimento íntimo dos personagens e de seus dilemas morais, sendo a violência um plano de fundo desse mundo caótico. O foco são as histórias dos protagonistas, e não seus assassinatos. Dessa forma, o filme parece ser uma grande homenagem aos filmes de máfia - tão populares no passado - e (por que não?) uma própria autorreferência à filmografia do diretor.
Por fim, é interessante analisar o contexto da obra. Trata-se de um filme de 3 horas e meia, que conta com uma produção milionária, atores renomados, e que vai direto para o "streaming" da Netflix. Já ficamos espantados com o que a Netflix foi capaz de fazer com "Roma", o melhor filme de 2018. Mas aqui, porém, o nível é outro. Estamos falando do diretor americano mais consagrado da atualidade retornando ao seu gênero mais familiar. "O Irlandês" representa, de vez, uma incrível capacidade do serviço de "streaming" em apostar em produções originais que atendam aos diversos tipos de público. E, com certeza, a computação gráfica realizada no rejuvenescimento dos personagens foi algo impactante. É claro que o nível da computação não chegou no patamar da completa perfeição, mas, depois de um estranhamento inicial, o espectador consegue tranquilamente imergir naquela história. E pensando que tudo isso acontece em um filme feito somente para o "streaming", percebemos que a era do cinema está, de fato, em transformação. Tendo em vista que as salas de cinema estão cada vez mais preenchidas por "blockbusters" que são, na maior parte das vezes, previsíveis, o cinema em "sreaming" surge como uma possibilidade de exibir filmes como esse para um público mais variado. "O Irlandês" é definitivamente uma combinação de elementos que não teria como dar errado. Um grande estúdio com capacidade de investimento, um grande diretor com liberdade criativa, um roteiro funcional e minucioso e um grande elenco. "O Irlandês" demonstra a força dos serviços em "streaming" ao prover uma película intimista, envolvente e, acima de tudo, tecnicamente perfeita.
Nota: 
- João Hippert